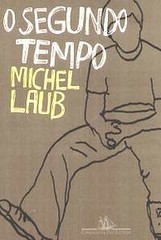O lançamento de seu livro de maior fôlego, Cosa de negros, publicado pela primeira vez na internet, é acompanhado por um pequeno encarte que mescla informações biográficas do próprio Santiago e de sua persona fictícia (“Quieres ser Cucurto? Sigue la evolución Cucurtiana”). Zombando do evolucionismo cientificista – fotos do autor imitam a posição do homem de Neandertal até a postura vertical –, a apresentação é feita através de uma linha do tempo que atravessa os momentos mais destacados da carreira literária de Cucurto/Vega. Além da inevitável menção à herança peronista que marca a infância do escritor (“El lema del padre... era repetir, después de cada comida: No quedará en pie ni un ladrillo que no sea peronista”), a história argentina aparece pontuando a sua “evolução” biográfica, através da referência ao período militar associado à conquista do título mundial de futebol pela seleção Argentina, entremeada à sua própria iniciação literária.
Como construtor da caricatura de si mesmo, Santiago Vega é um fingidor. O desdobramento da figura autoral em personas que ora se assumem como autores, ora como críticos, atiça o jogo entre alter-egos e heterônimos. O ato performático de criação de uma persona com nome e sobrenome que tem a liberdade de um personagem com biografia independente – Cucurto é dominicano, nascido na década de 1940 e desaparecido desde 1979 depois de uma passagem por Buenos Aires – é fundamental ao universo narrativo de Santiago Vega. Suas histórias são povoadas pelos temas da imigração e da exclusão social, sem nenhum laivo panfletário, e resgatam os estereótipos e os restos não aproveitáveis pela literatura, comprometendo-se apenas com a invenção de uma trama: “Cucurto es como una grande recicladora de pavaditas, de todo lo que ‘queda mal’ en la literatura” [1].
A tática de uma biografia inventada quer consolidar um produto, fazer do próprio autor um texto, “libro-escritor”, que se apresenta ao mercado pela impostura desinibida da performance: “Se trata del escritor que se vende a sí mismo como personaje y que se ofrece al mercado como un intelectual y descubridor de una zona inexplorada de la cultura" [2]. A recriação de um léxico que mistura gírias, ditados populares e falares paraguaios, antilhanos e portenhos, justapondo discursos de registros diversos, é o maior investimento do texto para representar uma contemporaneidade imediata e torná-la palpável pela ficção. Mas isso também já rendeu polêmicas. Seus livros já foram acusados de racistas e queimados em praças por leitores exaltados que não aceitaram sua distribuição na rede escolar.
A lógica narrativa aposta no exercício do humor, da incoerência, da criatividade divertida e exige que o leitor capte o sentido da representação. A opção por expor a arrogância, os preconceitos e a intolerância com a diferença étnica ou social encarnando-os em uma voz que simula essas atitudes é provocadora pela lucidez que demonstra na análise da cultura e pela dubiedade de sua atuação: performance crítica ou adulação fetichista?
O humor que permeia o ato performático não permite uma resposta definitiva. A espetacularização do politicamente incorreto põe em crise as convenções sem pretender nenhum gesto revolucionário. Simulando seguir o senso comum, seu movimento é um desafio a contrapelo da cumplicidade ingênua: “Al personaje (Cucurto) lo uso para liberarme. Mi literatura está siempre detrás del dislate. En meter la pata a cada rato”, afirma o escritor.
É o nome de Washington Cucurto que aparece estampado nas capas dos livros, apresentado como verdadeiro autor e protagonista de Cosa de negros. A narrativa tem um ritmo alucinante e apresenta algumas características comuns às duas outras novelas escritas por Santiago Vega. A lógica do disparate domina e é apoiada por uma linguagem mestiça que, mimetizando a oralidade, combina gírias, trechos em guarani e expressões populares. O texto é armado como um espetáculo e anunciado por uma voz que o apresenta à maneira de um show circense: “Señoras y señores, bienvenidos al fabuloso mundo de la cumbia”. A cumbia, estilo musical que invadiu a Argentina na década de 1990, é a trilha sonora fixa dos enredos. Surgida na Colômbia, o gênero originalmente era uma espécie de rapsódia de elementos indígenas, africanos e europeus. A versão argentina da cumbia ganhou ares de canção de protesto e encontrou nas favelas, ou villas, os seus principais intérpretes, uma espécie de funk carioca. A cumbia villera viveu seus dias de boom e explodiu em todo o país, sendo totalmente absorvida pelo mainstream. Os pibes chorros das favelas ganharam fama rápido e passaram a ser cultuados como ídolos e glamourizados por multidões. As histórias de Cucurto-Vega sempre se arriscam ao entrelugar do espaço proletário de cozinheiras, catadores de papel e porteiros que freqüentam os bailes de cumbia e a mitificação do mundo idealizado das letras pasteurizadas das canções.
Cucurto, “El sofocador de la cumbia”, irrompe na cêntrica Buenos Aires chegado da periférica República Dominicana como o astro principal do show de aniversário dos quinhentos anos da cidade. Desde o início, assume seu figurino, seguindo à risca a rubrica de seu personagem: “más de dos metros de altura, el pelo y la piel azabaches, brillantes anillos de zafiros en los dedos, botas tejanas al estilo teniente Collings”. Desembarcando no terminal rodoviário da Plaza Constitución, a efervescência e os contrastes chamam sua atenção: “el habitual albedrío multicolor del barrio” disfarça a Buenos Aires que “a un paso tiene la fama y el dinero o un colchón debajo de un puente”. O passeio da narração em terceira pessoa pelo centro confuso desenha a iconografia da cidade em meio aos camelôs, carrinhos de cachorro-quente, caos no trânsito e música em alto volume. A voz narrativa assume também a função de um ventríloquo que se apropria das falas do senso comum e expõe os preconceitos latentes.
Na primeira peripécia vivida por Cucurto, que precisa correr em meio ao trânsito enlouquecido atrás do táxi que não esperou seu embarque, sua condição de “negro” é ressaltada em um mix de intolerâncias: “Tucumano sembrador de papas!”. Os chistes machistas, xenófobos, homofóbicos que permeiam toda a história são dublados pelos personagens ou pela voz narrativa e encenados por uma atuação espalhafatosamente exagerada. A misoginia se revela em reprovações e elogios machistas que assumem o mesmo status e encontram ressonância no mais empedernido feminismo. Dessa forma, expressões ofensivas (“Si sos más corrida que el tango La Cumparsita”) são desculpadas por uma cômica desfaçatez poética: “Cómo quisiera ser picaflor y que vos fueras clavel, para libar el capullo de tu boca”. Cinismo que lembra a dicção do brasileiro Marcelo Mirisola.
Cada um dos personagens condensa um arsenal de frases feitas e opiniões do senso comum, repetidas ritualisticamente. A irritação de Henry, o motorista da Ferrari responsável por transportar Cucurto até o local do show, simula a postura reacionária de condenação a qualquer mobilização política: “Vayan a laburar, manga de vagos, viejas cholas, vayan a cocinar con esas cacerolas”. A frase, apropriada teatralmente, podia ser ouvida nas ruas depois da crise de 2001 durante os “cacerolazos” e encarnava a defesa de uma suposta ordem civil que se considerava ameaçada pelas manifestações populares. O tom de burlesco ridículo que cerca essas enunciações permite que elas sejam desconstruídas, sendo negadas pela afirmação. Ao contrário da classe média, execrada por Mirisola, aqui não há uma classe específica que condense uma mentalidade média e as falas reproduzem um automenosprezo. Henry, ele mesmo dominicano, reprova a imigração das primas: “Cállense, dominicanas del demonio... se vienen a mi país para putear acá... Que no hay trabajo! No queren fregar pisos...! Eso es lo que pasa!”. A brutal naturalização dessas opiniões está entranhada e se prolifera na ação dos próprios marginalizados. É dessa situação de esquizofrenia que Vega tira partido para fazer rir. O riso tem a consciência cínica dessa cumplicidade, mas quer expô-la ao ridículo.
O exagero é outro instrumento da espetacularização que aposta em um enredo de dramalhão folhetinesco para realçar a farsa. A paixão fulminante do astro por Arielina, com quem só esteve por alguns minutos, é traduzida pela intensa refrega sexual: “Cogeme, negro, cogeme... Dame con todo, sacudime la persiana, enterrámela hasta el fondo, enjuagame el duodeno”. Toda conotação agressiva é suavizada pela comicidade da cena, pelo exagero do detalhismo das descrições lúbricas. Ao mesmo tempo, seguindo e desrespeitando as regras de uma inocente história de amor, convivem, digamos, emoções mais fortes (“La tenía enterradísima bien en el fondo”) e as mais descabeladas juras de amor: “Si te sacan de mi lado me mato! Te llevás mi feminidad!”.
A carnavalização das referências históricas é mais um elemento reiterativo do tom farsesco da narrativa. As menções a Perón e a Evita são constantes e surgem em contextos disparatados e cômicos. Os líderes políticos aparecem, ora como espectadores do show de Cucurto (“vamos a mantener un aplauso sostenido para nuestras estrellas invitadas de lujo... El cadáver de la señora Eva Duarte de Perón, las manos del General”), ora como fantasmas nos sonhos dos personagens. A ironia dessacralizadora escarnece da obsessão e da paranóia com os mitos políticos e proclama a “República Revolucionária Productiva del Disparate”. O show que comemora o aniversário de “La Reina del Plata” termina com o seqüestro do presidente frente às câmeras de televisão e faz a narrativa avançar em um ritmo vertiginoso de peripécias. Arielina se converte em militante de um grupo revolucionário clandestino que pretende tomar o poder e se declara filha única de Eva Perón. Investindo na construção de uma teoria da conspiração em versão humorística, Vega aposta na inverossimilhança como indício de veracidade. Perón teria conhecido o pai de Arielina em um prostíbulo masculino que costumava freqüentar na República Dominicana e o teria contratado como mordomo. Logo depois, Eva se apaixona por Perseo Benúa, verdadeiro pai de Arielina, que pretende revelar toda a história aos argentinos e conquistar o poder.
O humor da ficção faz questão de brincar com os boatos a respeito da masculinidade de Perón e com o lastro de instabilidade política do país: “se nota una gran seguridade. Nada de sabotajes, alarmas de bomba, secuestros y asesinatos múltiples”. Por seu envolvimento com Arielina, Cucurto é seqüestrado pelo vice-presidente que pretende impedir o golpe e restabelecer a ordem. A narrativa se prepara para um final de confusão apoteótica. Todos se encontram em uma pizzaria e a irresistível atração dos protagonistas descamba para uma descontrolada orgia sexual envolvendo todos os personagens: “Y a esta altura lo que estaba sucediendo era la mayor corrupción sexual en la historia del país! Y todita llevada a cabo por inmigrantes!". A cena final também satiriza a narrativa do boom fazendo voar pelos ares, com todos os personagens da novela, o cortiço onde vivia Arielina, que fica pairando sobre Buenos Aires, apocalipticamente tomada pelas águas do Río de la Plata.
O caráter improvisado da narrativa sobrepõe-se a qualquer rigidez estruturante do relato e calca o pacto de leitura na conversão da verossimilhança em desatino. Assim como Perseo Benúa, antes apresentado como avô de Arielina, pode, sem maiores explicações ao leitor, passar a pai da protagonista, o desenlace surpreende pela inusitada configuração paródica da política argentina: de hot-sexy-love, Arielina passa a militante revolucionária. A superficialidade dos personagens-tipo afrouxa os elos narrativos, acelera o ritmo do relato e provoca o disparate.
Santiago Vega compôs um repertório bastante diferenciado em relação à narrativa dos anos 1990 na Argentina. Ao trazer para o universo ficcional questões como a imigração e a pobreza crescente, abordando-as através da encenação performática dos preconceitos raciais e sociais, o escritor demonstra um apetite pela contemporaneidade que esteve ausente da narrativa argentina na última década.
A presentificação, nesse caso, não pode furtar-se a tematizar o esgarçamento do tecido social que certamente foi a área mais duramente atingida pela versão menemista do neoliberalismo na Argentina. O fenômeno do crescimento das “villas”, o subemprego, a avassaladora intromissão dos meios massivos na vida privada (a partir da qual Menem praticamente se pensou como um produto), enfim, todas as desgraças assinaladas como males do capitalismo tardio permeiam o universo narrativo de Santiago Vega.
Nesse sentido, o universo cucurtiano de bairros proletários, imigrantes ilegais e bailes de cumbia demonstra uma sensibilidade aberta à contemporaneidade que remete ao paradigma do artista como etnógrafo, defendido por Hal Foster. Em The return of the real, o autor tematiza os impasses que rondam a disposição engajada do artista e de sua produção. Considerando como modelo para o paradigma do autor-etnógrafo as premissas levantadas por Benjamin em seu artigo “O autor como produtor”, Foster identifica muitas persistências negativas desse modelo na nova atitude política do artista, apesar de todas as ressalvas benjaminianas na tentativa de superar o impasse que colocava em campos opostos qualidade artística e relevância política.
Segundo ele, a principal diferença entre os paradigmas diz respeito à substituição de um sujeito definido em termos de relação econômica para um outro definido em termos de identidade cultural, embora os perigos continuem os mesmos: a tendência a acreditar na interdependência das transformações artísticas e políticas, a quase-certeza de que essa transformação depende do outro (“no modelo de produção, (...) o outro social, o proletariado explorado; no paradigma etnográfico, (...) o outro cultural, o oprimido pós-colonial, subalterno ou subculturalizado” [3]) e a exigência de que o autor se identifique com esse outro para que esteja habilitado a “representar” a alteridade. Esses riscos expõem o autor à armadilha do “patronato ideológico”, para a qual Benjamin já alertava, e têm como conseqüência a essencialização do diferente. O argumento de Foster defende que “a codificação automática da diferença aparente como identidade manifesta e da alteridade como margem deve ser questionada” [4] e critica a apropriação do outro pelas práticas artísticas do modernismo pela mera operação invertida que preserva estereótipos: “idealizar o outro como a negação do mesmo” [5].
Pode-se identificar na literatura de Santiago Vega um olhar etnográfico atento a seu entorno, mas precavido contra os perigos simplificadores do engajamento político da prática artística. O texto se esforça por anular as formas de populismo, driblando a identificação do outro como vítima e escapando ao gesto contrário da desidentificação que fantasmagoriza a diferença. Recusando a autenticidade, a estratégia é a atuação ventríloquo-performática que canibaliza ambos os gestos, através da apropriação polifônica que delata a violência cultural e reinventa uma posição de resistência: “Siempre se trata de poner en la boca de los personajes (y de sí, el protagonista, héroe y animador cultural), las voces de aquello que la cultura mira con pudor, asco o miedo” [6]. A atitude-travesti dos narradores cucurtianos (“juego a ser vos. Me visto de vos”) é o verdadeiro virtuose da estrutura cínica capaz de incorporar uma multiplicidade ideológica, colaborar com todas e não encarnar nenhuma de maneira autêntica, investindo na “potencia (política) de jugar con el malentendido" [7]. Parecendo concordar com a sugestão de Foster de que a distância crítica é a única ferramenta capaz de assegurar a negociação entre “o status contraditório da alteridade como dada e construída, real e fantasmática” [8], a performance cucurtiana baralha essas formações e escolhe se colocar em um entrelugar instável (“Ni ALLÁ – opción populista – ni ACÁ – opción etnocéntrica”), posicionando-se em uma distância implicada: “No se trata del ENTRE de la conciliación, sino del lugar en el que el conflicto real es posible” [9].
O que impede a alienação e a essencialização dessa alteridade é o gesto deliberadamente farsesco de um texto que se declara falso e repudia compromissos com a mera reprodução do real. Não é à toa que a autodefinição de estilo por Vega joga com a idéia de um realismo de blefe, um “realismo atolondrado”, “una literatura basada en el ridículo, en el absurdo, en el despepite de vivacidades estrafalarias”.
[1] "Apuntes sobre el realismo atolondrado", entrevista a Bárbara Belloc.
[2] Schettini, Resenha de Cosa de negros.
[3] “in the producer model, (...) the social other, the exploited proletariat; in the ethnographer paradigm, (...) the cultural other, the opressed postcolonial, subaltern, or subcultural”. Foster, The return of the real, p. 173.
[4] “the automatic coding of apparent difference as manifest identity and of otherness as outsideness must be questioned”. Id., p. 175.
[5] “idealize the other as the negation of the same”. Id., p. 178.
[6] Schettini, Resenha de Cosa de negros.
[7] Díaz, Resenha de Cosa de negros.
[8] “the contradictory status of otherness as given and constructed, real and fantasmatic”. Foster, op. cit., p. 203.
[9] Díaz, op. cit.
* * *
Referências bibliográficas:
CUCURTO. Cosa de negros. Buenos Aires: Interzona, 2006. [Ed. original: 2003].
BELLOC, Bárbara. "Apuntes sobre el realismo atolondrado", entrevista com Cucurto em Radar Libros. 26 jun. 2003.

FOSTER, Hal. The return of the real: the avant-garde at the end of de century. Cambridge (MA): The Mitt Press, 1996.
SCHETTINI, Ariel. Resenha de Cosa de negros, em Radar Libros, 20 abr. 2004.