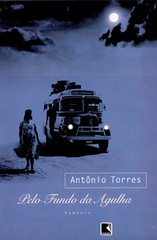Negros negros, negros brancos, negros pobres, negros ricos, negros machos, negros fêmeas, negros gays. É essa a matéria – a paisagem, as tintas e a tela – nas mãos de Marcelino Freire, em seu último livro, Contos negreiros. São 16 contos distribuídos em pouco mais de cem páginas. Como temática central, a variedade "cromática" das misérias humanas e sociais, tão comuns e algumas vezes irrelevantes aos nossos olhares.
O que menos vai importar é a posição étnica de seus narradores, protagonistas, personagens, atores. As relações que eles constroem, a realidade que o autor nos pinta, aliadas à agressividade ritmada da escrita de Freire, é que são negras. Não podemos categorizar ou enfatizar a categorização social referente a raça, cor ou qualquer outro elemento. O fato é que os contos trazem às vistas toda a miséria, o descompasso, nos retiram de um mundo cor-de-rosa e nos fazem esbarrar na realidade: nosso passado colonial é presente e os escravos são agora multicolores.
Ironia, sarcasmo, secura e, em contraponto, pinceladas de uma poesia singela, rimas fáceis, jogos de palavras, trocadilhos, presentes em toda a obra do autor, são traços fortes desses contos. Logo na apresentação, o cearense Xico Sá esboça o que virá pela frente: "o cabra mal começa, acabou-se. De tanto punch, de tão amargo, de tão doce – prosa-rapadura, contraditória?! A gente lê voando, priu, num sopro" (p. 11). A dureza e a agressividade dançam com a doçura sarcástica, piegas, ridícula.
O grande mote dos contos é o desconcerto que pretendem causar ao leitor. "Solar dos príncipes" não tem precedentes. Narra a história de cinco negros que descem o morro para fazer um documentário sobre a classe média. Apossados de instrumentos praticamente inacessíveis a eles – equipamento de produção cinematográfica –, tentam produzir um filme sobre o cotidiano da classe média e são barrados pelo porteiro. Também negro, o porteiro tem um posicionamento "fora do lugar": trabalhando para pessoas abastadas, ele toma partido, nessa cena inusitada, de seus patrões. É como um feitor ou capitão do mato, no período escravocrata. Absorve uma postura de embate – tipicamente a da classe média atual, tão aterrorizada pela violência urbana – e rechaça seus pares.
Em "Coração", a voz que escutamos é a de um travesti prostituído, que masturba homens no metrô. Ainda rara, e bastante discutível, a presença gay na literatura brasileira pauta-se ou pelo estereótipo acrítico ou pelo cuidado insistente na construção, em resposta aos movimentos organizados. Isso não acontece em Contos negreiros. O narrador de "Coração" não levanta bandeiras, não pede respeito, não reclama de sua miséria. Desconcerto: o narrador personagem tem densidade. Não é apenas uma presença gay, mas uma voz ativa, que é vítima, mas que também faz escolhas, pensa a sua realidade, vive, sobrevive, flutua, sofre e morre de prazer.
O deslocamento de ossos, para usar expressão do próprio Freire, o desconforto e a surpresa seguem na construção do livro. Eles são, ao lado da miséria multicolorida, o fio condutor das narrativas – a fonte de conteúdo e forma da obra. "Totonha", o canto XI, desmonta o leitor erudito. Mais uma vez, as nossas restritas concepções e verdades absolutas e universais sofrem abalo. Totonha, a personagem, é uma velha senhora, que, com seu discurso trocado, ao contrário, nos desperta: ela não quer aprender a ler. A sua negra realidade é tão natural, apartada do mundo cultural – restrito aos alguns que o pensam e o consomem –, que não lhe servem a leitura e a escrita. "Capim sabe ler? Escrever? Já viu cachorro letrado, cintenífico? Já viu juízo de valor? Em quê? Não quero aprender, dispenso" (p. 79).
Os preconceitos – rompidos ou expostos – ultrapassam questões de cor e se escancaram em relações colonizatórias dirigidas a mulheres, gays, pobres etc. E é inovador, algo pós-Pós-moderno, o modo como Freire não somente expõe, mas também deixa que o leitor sinta a sua incapacidade de narrar a realidade espedaçada que vê, lê, assiste, vive. Ele subverte a tão recente lógica do texto "politicamente correto" e transgride, pelo menos no espaço do conto, seu papel de autor, quando veste-se ou traveste-se de negro, de negra, de viado, de pobre, de humilde. Sem medo de uma crítica puritano-moralista, deixa fluírem seus preconceitos, suas visões parciais, seus recortes. Ao mesmo tempo, não sugere ao leitor uma relação pacífica com essa realidade; incita, cutuca, inflama... e, para citar Xico Sá, "dá belas chibatadas no gosto médio e preconceituoso, com gozo, gala, esporro, com doce perversidade, sempre no afeto que se encerra numa rapadura" (p. 13).
A obra desconcerta certezas. Põe em xeque o cartesiano e "canônico" fruir literário e o conservadorismo social, quando transcende não só os embates classistas, mas a língua culta – preocupação quase sexual de alguns gramáticos ou saudosistas de um passado glamouroso que não houve – e também a quase instransponível barreira do senso comum, tão vinculado às percepções ocidentais modernas.
E é essa a grande sacada de Freire e alguns de seus contemporâneos: lidar escrachadamente com estereótipos, não de modo a reforçá-los, mas a fazê-los gritar, chamar a todo instante e de modo violento a atenção do leitor. E o autor tem consciência de para quem escreve, na ferida de quem ele quer meter o dedo: é o intelectual leitor de classe média o interlocutor incomodado de Freire. Ou é o principal alvo, pelo menos, de livros tão bem trabalhados visualmente – atrativos para os olhos e embrulhados para o estômago.
Liana Aragão.
Mestre em Literatura pela Universidade de Brasília.
Encontro da terça-feira 29.11.2005.